A questão Palestina - presente de grego do Foreign Office à humanidade
Por muito tempo, para um brasileiro de esquerda nesses anos pós-1989, a guerra árabe-israelense tem sido relegada a plano secundário, para cuja solução deixou-se de cobrar urgência. É hora disso mudar. Ausente de nossa pauta de preocupações, talvez não tenhamos na cabeça massa de dados e argumentos não só ordenados, mas historicamente abonados, para explicar o drama que se desenrola diante de nossos olhos hoje. Mas qualquer um de nós sente que a questão palestina, especificamente a invasão israelense a Gaza, hoje, agora, tem a ver com os nossos compromissos senão partidários, pelo menos de consciência, de foro íntimo, tem a ver com a práxis e aplicação das teorias que nos justificam como homens de esquerda. Senão por tudo que conseguimos captar dos noticiários, a questão tem a ver com nossa consciência pelo menos quando somos postos diante da cena de uma criança de meses morta nos braços do pai, trabalhador comum, num ambiente de caos, à frente de soldados blindados para “guerra nas estrelas”, protegidos por tanques e foguetes “artificialmente inteligentes” e orientados por satélites, tudo isso graças ao poderio norte-americano. Completa o “emprestado” quadro high tech as manchetes enaltecendo a precisão cirúrgicas das armas invasoras: Gaza tem 320km2 e um milhão e quinhentos mil habitantes. Note-se que nos anos 90 falava-se que a ajuda norte-americana a Israel cifrava-se em US$ 11 bilhões por ano. Do lado palestino, o soldado cru e nu que hoje somos todos nós, o sem-camisa, o sans culotte. Mas, com toda a coragem de um homem, engaja-se numa guerra em que a proporção é, agora, 4 high techs para 140 sans culottes. Não satisfeito com essa relação, o general comandante da operação manda a população civil fugir, se estiver na rua será alvo. Ipso facto, há dois anos mantém sítio rigoroso a Gaza. A relação aí, frente à população civil, mulheres e crianças, nesses 12 dias de bombardeio aéreo, naval e de tanques, é de 600 mortos para mais de 5000 feridos. O território está fechado até (e principalmente) para as autoridades da ONU. Não há água, não comida, não há eletricidade, não há hospitais nem há dia ou noite. Só o inferno. A loucura desenfreada de dois governos em ocaso está levando o mundo a catástrofes da mesma dimensão do Holocausto de 1939-45. A ironia é que aqui como lá continua a mesma relação de forças entre vítima e agressor. Então, que nos perdoem a brevidade e falta de notas de rodapé na exposição de nossos argumentos. Uma das razões é que sobre o conflito árabe-israelense, mais ainda, sobre o conflito palestino-israelense, nosso lastro de informações é mais que minguado, é fragmentado, de propósito minguado e fragmentado. E esse “nosso” quer significar os setores ditos cultos não apenas no meio acadêmico brasileiro, mas do meio acadêmico dos pólos que nos irradiam cultura. Para que, além dos protagonistas árabes e judeus jamais haja “um culpado” sobre essa tragédia, truncam-se os dados que explicariam sua trama, seu enredo, principalmente a “ação desses personagens”. O interessante é que hoje a estratégia de truncamento não mais opõe comunismo–capitalismo, opõe democracia – Israel, como ponta de lança dos Estados Unidos, e terrorismo – o Hamas. Uma farsa que nos considera imbecis. Todos sabemos que quando da fundação do Estado de Israel, o depoente é Menahem Begin em The revolt, as organizações terroristas, principalmente a Irgun, que esse ganhador de Prêmio Nobel da “Paz” dirigiu (assim mesmo, leiam o livro) tiveram papel fundamental na evacuação da população civil e roubo de suas propriedades. Nessa época não era crime admitir-se terrorista. Advirtamos aqui que em relação à guerra árabe-israelense, que no mínimo tem hoje 62 anos, faremos comentários sobre as razões de ambos os lados. No que tange, porém, a invasão israelense em curso em Gaza, hoje, não temos dúvida em condenar Israel. Dizimando civis e soldados desarmados, a operação pretende “limpar” a imagem desse exército e governo, tendo em vista o fiasco da invasão do Líbano em 2006. A operação presta serviço à derrotada e mundialmente repudiada administração Bush, procurando criar fatos consumados com que fundamentalistas norte-americanos e israelenses possam produzir escolhos à administração Obama. Com o sangue de mulheres e crianças, a operação pretende ganhar as próximas eleições em Israel. É ação covarde, vil. O grande culpado Restringindo-nos ao final do século XIX e primeira metade do século XX, podemos afirmar que o conflito tem formação na Caixa de Pandora que representou, na Europa, Eurásia e Oriente Médio, alguns dos eventos como os a seguir itemizados: a) o surgimento e exacerbação, no contexto que envolve as duas guerras, do conceito de “nacionalismo” como estratégia de libertação de povos oprimidos; b) a desagregação ou o desmoronamento radical dos Impérios Austro-Húngaro e Otomano, deixando seus povos – relíquias de um feudalismo oriental bizantino – , na condição de presa de um colonialismo e imperialismo não menos retrógrados que aquele; c) a fraqueza da Inglaterra, quer como “massa étnica”, quer como unidade política e força militar, para desempenhar as funções de líder mundial, não só nessa fase, mas desde 1815. Justifiquemos com a advertência: se o “se” não existe em História, pelo menos é instrumento para a sua compreensão. Nesse sentido, à ausência do ideário nacionalista, do modo específico como então e ainda hoje se manifesta – língua, cultura e religião como base para postulação da autodeterminação de povos oprimidos –, o sionismo não se teria constituído, tão rapidamente e até hoje sem contestação interna, numa força aglutinadora das comunidades judaicas de todo o mundo; igualmente, à ausência dessas idéias, a entidade islâmica Uma – comunidade espiritual –, também não teria abrigado, tão rapidamente e sem críticas, os anseios de reunificação do mundo árabe em torno de lideranças carismáticas seculares. Num caso, o nacionalismo casa-se com arraigada noção de povo eleito – do que só pode resultar Estado nacional exclusivista e racista; noutro, encontra-se com os anseios de redenção e retorno a uma Idade de Ouro para sempre perdida, apontando para Estados militarmente fortes. Focalizando apenas a Palestina, tivesse a Inglaterra massa continental, massa étnica, unidade política em casa e força militar e, também, força moral, a Declaração de Balfour não precisaria ter sido tão ambígua como foi, nem a força imperial precisaria ter abandonado tão rapidamente o território em que fora ocupante e mandatária entre 1917 e 1948. Débil, exaurida de recursos e complacente diante de suas responsabilidades históricas, antes de ceder, no palco da hegemonia mundial, seu lugar aos Estados Unidos, a Inglaterra cunhará procedimento imoral, que os belgas, pelas mesmas razões, virão a adotar na África, especificamente em relação aos povos Hutus e Tutsis quando de sua independência em 1962: “Libertemo-los, mas de modo que fiquem para sempre atados por um nó de ódio e discórdia recíprocos. Dessa maneira, serão nossos aliados e/ou subordinados.” O Cavalo de Tróia Expliquemos a questão acima: sabemos que na região originariamente de colonização alemã onde hoje estão os Estados de Ruanda e Burundi, desde tempos imemoriais habitavam hutus e tutsis, os primeiros agricultores; os segundos, guerreiros, que tiravam seu ganha-pão da venda de proteção e cobrança de impostos, butins etc. Essa divisão social do trabalho será intensificada pelos colonizadores alemãs e belgas, exacerbando o ódio entre as etnias. A luta pela independência nos anos 50, após massacres, vai resolver-se pela criação de dois Estados. No que veio a ser Ruanda, os colonizadores belgas avaliavam existirem 80% de hutus e 14% de tutsis; em Burundi, o contrário. Com esses dados, é imediatamente previsível a impossibilidade desses povos, em cada Estado, virem a viver juntos sob governos democráticos, senão a partir de massacres recíprocos. O resultado desse sinistro acordo começa a aparecer com os massacres de 1959 e se estende até hoje, com o Holocausto de 1992: – 800 mil tutsis mortos em menos de cem dias. Do drama, temos repercussões em nossos dias, quando o general renegado Laurent Nkunda faz razzias pelo território da República Democrática do Congo, com as catástrofes humanas decorrentes. Ruanda e Burundi é modelo para a compreensão do drama árabe-judeu a partir de 1914-18. A Declaração de Balfour é epítome de uma linha política de guerra sagaz e perversa, que desde antes de 1917, quando já se desenhava a vitória inglesa, o Foreign Office tramara em relação à desagregação do Império Otomano, aliado do seu arqui-inimigo, a Alemanha. No caldeirão de raças que constituíam o império destroçado, os povos de expressão lingüística árabe são expressiva maioria. Cumpre redesenhar suas fronteiras e dividi-los, não a partir de lideranças modernizantes, mas a partir de linhas tribais, feudalizantes, desconectadas do século XX e de seus próprios povos, já que muitos desses chefes tribais tinham sido instrumentos da administração turca recém-derrotada. Afinal de contas, pensa o governo inglês, no território imemorialmente ocupado por esses “árabes”, há uma riqueza inestimável. Tenham-se por parâmetro o Iraque e a Arábia Saudita. A contradição da política inglesa para com os árabes tem ilustração aqui: conceda-se a independência a esses povos estressados pelos turcos, mas a partir de estruturas políticas e sociais tradicionais – reinos, clãs, tribos e suas formas fósseis de exploração, inclusive da mulher, e deixem-nos viverem às turras com suas novas gerações, principalmente os militares. De quebra, favoreçamos o surgimento de um Estado judeu religioso e nacionalista, a partir do mando das aristocracias européias, a ser nosso aliado. Se corre para um lado, essa aristocracia feudal árabe terá o rancor de seus povos, com as novas gerações militares à frente. Se corre para o outro, terão o mundo moderno, a tecnologia, seu coveiro. Essa é a política que os norte-americanos herdaram, adaptaram ao seu imperialismo com economia de mercado e fundamentalismo protestante anglo-saxão. Durante o século XX, do esfacelamento do poder otomano ou colonial europeu tem nascimento uma série de países sensíveis ao Pan-arabismo: Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes. Se se inclui os países muçulmanos, saídos ou não da esfera do poder otomano, a lista tende a crescer: o Irã e todo o Magreb, inclusive o Marrocos, a África Ocidental, Central e Oriental. De um modo geral, são, em sua quase totalidade, países engessados a partir de formas de governo ligadas à tradição oriental, que Arnold Toynbee, sem idéia depreciativa, chamará de países fósseis, frente às poucas nações européias que a partir do século XVI abrem o passo para entrada das chamadas sociedades da transformação, da tecnologia, da inovação (também sem idéia melhorativa, advirta-se). Especificamente com relação à Palestina, ciente da questão sionista e do nacionalismo árabe e israelense, a Inglaterra, senhora da região, começa a favorecer a maciça entrada de imigrantes judeus nesse território a partir de 1917 (antes dessa data não ultrapassavam 1% da população; em 1948 já constituíam os 30%). Sintomático é que é só a partir de 1917, também, que no Movimento Sionista a opção de localização do Judenstaat afasta-se de alternativas como a Argentina, o Congo e Chipre e se concentra na Palestina. É discutível que em relações internacionais, a toda hora ocorram acasos, excetuando os decorrentes de catástrofes naturais como o Tsunami. Se o móvel desses contingentes de povos que se dirigem à Palestina é a formação de um Estado nacional, no caso, religioso, fundamentalista, a “líder” deveria avaliar a estreiteza da expressão “lar nacional” aposta ao documento que autoriza a operação. Foreign Office, 2 de novembro de 1917 “... O governo de S.Majestade vê favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional judeu e usará de seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas da Palestina ou os direitos e status político desfrutados pelos judeus em outros países.”
James Arthur Balfour (fonte: sítios da web)
*Ailton Benedito de Sousa é escritor e membro do Cebela
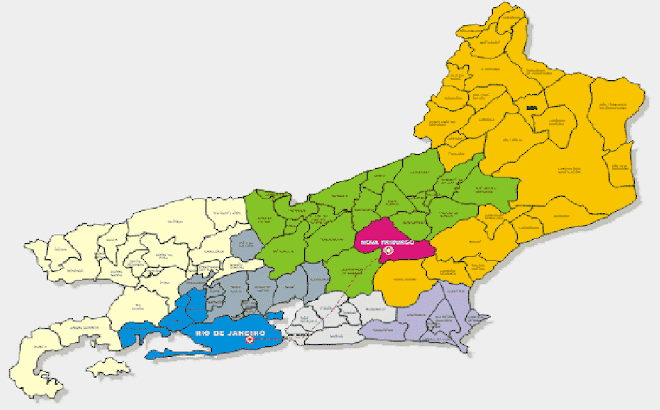
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário